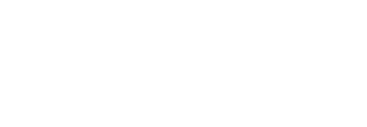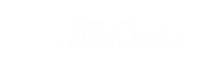CLARA BALBI/SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)
Quando o burro fica saciado, começa a dar chute. Carne da meninice será devorada pela velhice. Seu nariz é seu, mesmo se apodreceu. Os ditados pontuam as frases da escrava Zarifa no livro “Damas da Lua”, o primeiro em árabe a vencer o International Booker Prize, versão internacional do maior prêmio literário britânico. E mostram um Omã que, segundo a escritora Jokha Alharthi, está prestes a desaparecer -uma sociedade regida pelas vontades dos “jinns”, ou gênios, e outras “tradições quase extintas”.
“Anos antes de escrever o romance, estava na fazenda de minha avó, onde estilos de vida tradicionais ainda se mantinham vivos, bem como as construções, os móveis e as roupas típicas”, narra a autora e acadêmica de 42 anos num email vertido do árabe por Felipe Benjamin Francisco.
“Desejei então imortalizar isso”, ela continua, acrescentando que o livro só foi escrito tempos depois, quando um doutorado em Edimburgo, capital escocesa, a fez sentir falta da sua terra, da sua língua. Lançado agora no país, “Damas da Lua” funciona, então, como uma meditação entre passado e presente do sultanato, vizinho da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Irã e apelidado de Suíça do Oriente Médio pelo papel conciliador que exerce em meio ao mar de conflitos da região.
A evolução de um vilarejo inventado, próximo à capital, Mascate, através das décadas é narrado por uma constelação de personagens. São quase 30 deles, a maioria feminina, apresentados numa árvore genealógica que lembra a que acompanha certas edições de “Cem Anos de Solidão”, de ?Gabriel García Márquez. Do lado da tradição, estão as mulheres impedidas de comer junto da família ou de tomar banho depois de dar à luz, advertidas de que ler demais cega os olhos em vez de os preservar belos. Do outro, o da modernidade, as que frequentam universidades, têm carros, se divorciam. São representações de uma feminilidade em transe que também ganham as artes visuais, como na obra da artista iraquiana Hayv Kahraman ou da iraniana Shirin Neshat.
O ponto de inflexão entre esses tempos é a escravidão, que só acabou em Omã em 1970, deixando marcas sociais “difíceis de apagar”, segundo Alharthi. Naquela mesma época, o petróleo, recém-descoberto, provocava mudanças profundas na política, na economia e nas relações sociais no país. Daí a importância de Zarifa, a guardiã dos provérbios -nascida de mãe queniana e comprada ainda pequena, ela continua a servir à família em que foi criada mesmo depois do fim do sistema.
É seu filho que a todo tempo a lembra de que eles são “livres pela lei, livres”, sem ?sucesso. “Abra o olho, o mundo mudou, mas você continua dizendo ‘meu amo e meu senhor'”, o jovem insiste. Mas, além dela, há três gerações de moradores do povoado que tem seus pensamentos destrinchados por Alharthi a cada capítulo -a mulher louca, abandonada num cubículo no quintal, e sua filha desesperada, o pedinte que não abandona os velhos hábitos mesmo depois que o filho enriquece, a beduína obstinada dotada de beleza comparada à da Lua.
Alharthi afirma que a estrutura fluida do romance se deve à forma como ele lida com o tempo e a memória. “Acredito que o passado esteja aberto a possibilidades, e não só ao futuro”, justifica a escritora, lembrando como acontecimentos que se repetem em vários capítulos são lembrados de forma diferente a depender do personagem que os narram. “O importante para mim é que há diversos ângulos de onde se pode ver as questões essenciais da vida”, ela acrescenta. “Um conceito genérico como a felicidade é confuso e completamente diferente de pessoa para pessoa.”
O único personagem com uma perspectiva narrada em primeira pessoa é Abdallah, criado pela escrava Zarifa e ?filho do maior comerciante do vilarejo. Sentimental, ele regurgita as lembranças ?envolvendo sua mãe, morta misteriosamente, a filha médica e a mulher que não o ama num fluxo de pensamento ao longo de um voo de avião. Embora essa condição tenha feito o personagem ser descrito como narrador do livro nas críticas já publicadas, Alharthi pondera que o fato de ele falar diretamente ao leitor não lhe dá um status mais importante na trama. “Eu dou voz a ele assim como dou aos outros. Contudo, combinava com ele os acontecimentos de seu próprio ponto de vista, revelando seu sofrimento existencial tal como ele o via, por meio de uma ?livre associação de ideias.”
A personalidade mais romântica, ingênua até, do filho do mercante ecoa em outras figuras masculinas do ?livro. Seu sogro, o beduíno Azzan, e seu cunhado, o pintor Khálid, são outros a mostrarem traços mais líricos. As mulheres, ao contrário, parecem endurecidas pelas provações da vida, o que levou o crítico literário James Wood a definir “Damas da Lua” como um romance sobre casamentos infelizes num artigo para a revista The New Yorker.
Questionada sobre o que estaria por trás disso, Alharthi responde que nunca pensou que os personagens masculinos do livro fossem mais realizados do que os femininos. “Todos os seres humanos, homens ou mulheres, podem ser derrotados”, diz a autora. No mais, isso não reflete a maneira como ela enxerga as relações de gênero, acrescenta a autora. “A literatura cria uma nova realidade, paralela à primeira. Considerar isso um espelho não só anula seu papel ficcional e estético, mas trata a escrita como simples reprodução da realidade e não como o agente que a reconstrói.”
É ao poder dessa linguagem, aliás, que Alharthi credita o sucesso de seu livro, que abocanhou o Booker Prize das mãos da polonesa Olga Tokarczuk, vencedora da edição anterior da láurea e do Nobel no ano passado. Foi também a primeira obra de uma escritora omani a ser traduzida para o inglês -e para o português. “Isso nos confirma que a literatura atravessa fronteiras e que os maiores valores humanos nos são comuns”, afirma Alharthi, lembrando que é essa qualidade que a atrai, por exemplo, ao romancista brasileiro Jorge Amado.
“Esta literatura lança as perguntas, mas não as responde. E o mais importante que ela nos ensina é evitar a superficialidade e julgar sem pensar, sabendo que as coisas são mais complexas do que parecem.”